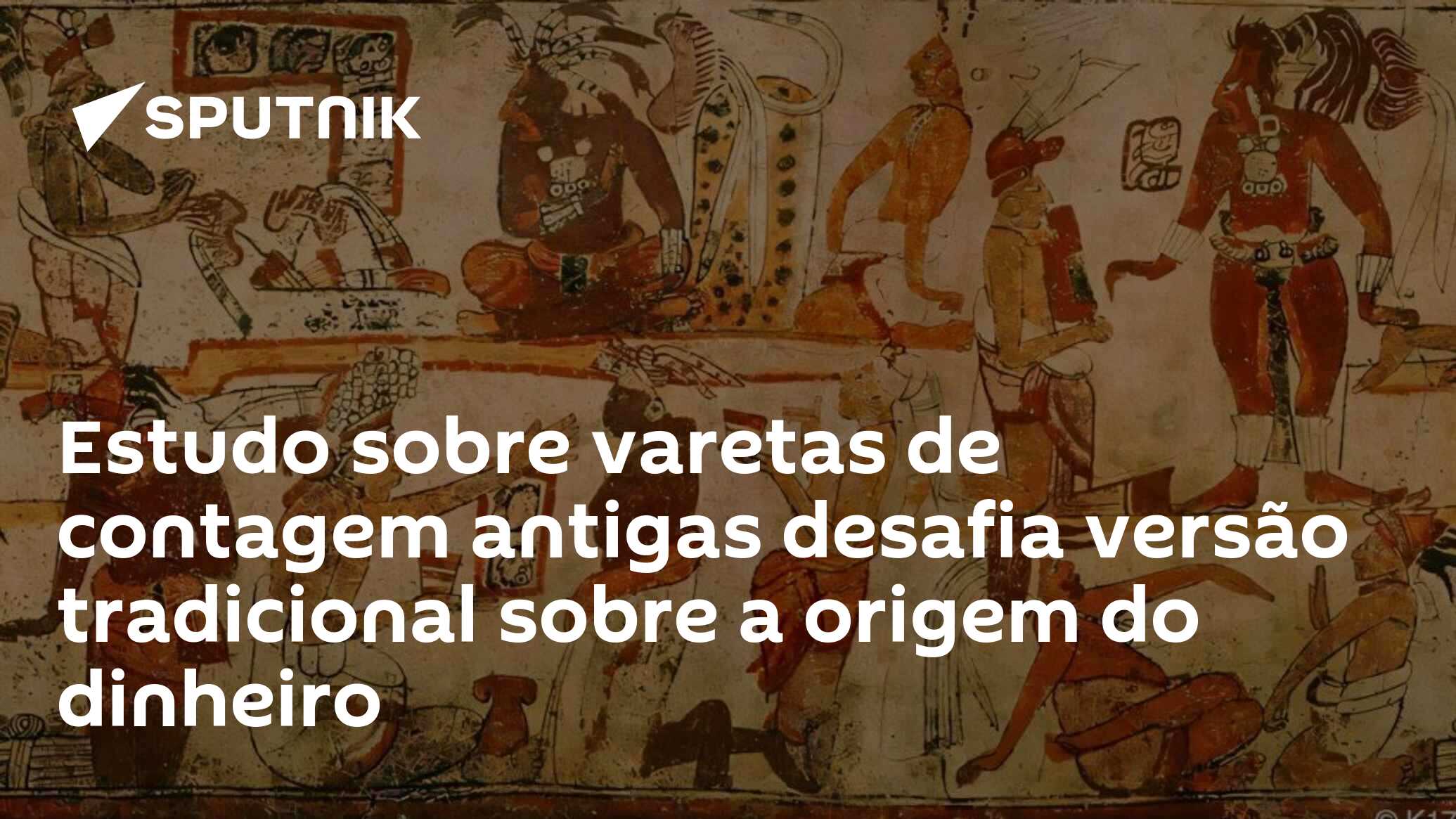Essas varetas, feitas de madeira e osso, foram empregadas em sociedades como a medieval Inglesa, onde funcionavam como registros de impostos e, mais tarde, como instrumentos de crédito. Na China, por exemplo, evidências mostram que bambus talhados eram utilizados para contabilizar bens como grãos e moedas já no século III a.C. Da mesma forma, entre os maias, peças de osso de períodos que datam de 600 a 900 d.C. foram associadas a tributos em produtos como milho e tecidos.
Essas descobertas substanciam a teoria chartalista, que sugere que o dinheiro não é apenas um meio de troca neutro, mas sim uma ferramenta institucional criada por autoridades políticas para facilitar a arrecadação de impostos e a organização econômica. “Os governos, que têm fé em sua própria moeda, devem gastar primeiro e depois taxar, usando a tributação como um meio de controlar a inflação”, afirma Rosenswig, ao criticar a ideia de que os Estados devem operar apenas dentro de suas limitações financeiras, como se fossem uma família.
A pesquisa apresenta uma nova luz sobre o papel do governo na economia, sugerindo que, ao invés de se restringirem, os Estados poderiam ter mais liberdade para investir em programas sociais e infraestrutura. Quando se abandona a visão ortodoxa de que o dinheiro é meramente um meio de troca, abre-se uma nova gama de possibilidades para apoiar trabalhadores e famílias, especialmente em tempos de crise econômica.
Rosenswig enfatiza que entender a história da moeda não é apenas uma curiosidade intelectual, mas uma ferramenta útil que pode influenciar os debates contemporâneos sobre economia e política. Ele sintetiza a principal lição de seu estudo, afirmando que a natureza do dinheiro não é fixa ou universal; ela é moldada por escolhas políticas e sociais. Portanto, a maneira como decidimos usar a moeda atualmente deve ser vista como uma questão de decisão política, e não como uma inevitabilidade histórica.